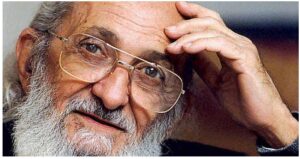Republicado em parceria com: Comuá – https://redecomua.org.br/vamos-decolonizar-a-filantropia-sim/
Este artigo é uma resposta da Rede Comuá ao texto publicado por João Paulo Vergueiro intitulado “Descolonizar a filantropia é um conceito que não cabe para o Brasil”
Vamos decolonizar a filantropia, sim!
A Rede Comuá vem pautando a discussão sobre a decolonização da filantropia há tempos, tanto através de artigos publicados como de debates travados em diversos espaços, nos âmbitos nacional e internacional.
Para nos posicionar perante a tese de que a decolonização é um conceito que não cabe no Brasil, bastaria apenas fazer menção ao artigo publicado por Graciela Hopstein e Allyne Andrade na Alliance Magazine em 2022 e traduzido pela Rede Comuá para o português, publicado no blog da Rede Comuá “A descolonização da filantropia está avançando” .
De todas as formas, para iniciar o debate, acreditamos que vale resgatar aqui alguns argumentos fundamentais, apresentados no mencionado artigo, construídos desde uma perspectiva analítica material (e que não implicam apenas uma lógica discursiva). A nossa ideia aqui é não apenas refutar essa tese, mas afirmar que efetivamente vivemos numa sociedade atravessada pela existência de pactos, práticas e visões coloniais. E finalmente, precisamos entender que o campo da filantropia como atividade humana e social é inseparável das dinâmicas que atravessam a sociedade como um todo.
De acordo com Anibal Quijano, o conceito de colonialidade ou lógica colonial deve ser entendido para caracterizar o padrão típico de dominação global no sistema capitalista moderno, cuja origem remete ao colonialismo europeu do início do século XVI baseado na dominância “dos modelos de controle da subjetividade, da cultura e especialmente com a produção do conhecimento” [1]. Como sinalizado no artigo da Graciela e Allyne, o autor identifica como os mais importantes elementos do eurocentrismo:
a) uma articulação marcada do dualismo (pré-capitalista/ capitalista, não-europeu/ europeu, primitivo/civilizado, tradicional/moderno etc.) e a evolução linear, unidirecional, de um estado de natureza para a sociedade europeia moderna;
b) a racionalização das diferenças culturais entre grupos humanos derivada da noção de raça; e
c) a visão temporal-distorcida de todas essas diferenças por enxergar os não europeus e a sua cultura como anacronismos (Andrade e Hopstein, 2022) [2].
Temos aqui uma primeira grande contradição com relação aos argumentos apresentados por João Paulo Vergueiro: o conceito de colonialidade não surge no norte global, mas sim na América Latina, tendo Quijano como um dos grandes autores de referência, da mesma forma que María Lugones, dentre outros/as. Portanto, não é um conceito apropriado nem adaptado, muito pelo contrário. Fazer uma boa revisão da literatura é fundamental quando se tem a intenção de contestar posicionamentos desse porte. A bibliografia é vasta e a discussão sobre essa temática tem longa trajetória, que começa com o conceito de pós-colonialidade em Portugal, posteriormente ressignificado na América Latina como decolonialidade e, mais recentemente, a partir da revisão de autores/as africanos/as, temos debates centrados na contra-colonialidade.
Em segundo lugar, argumentar que é um “erro contraproducente” falar em decolonizar a filantropia quando não temos uma filantropia brasileira consolidada – como destaca o próprio texto original, que ainda não é reconhecida e valorizada, é um argumento equivocado porque de alguma forma pretende negar a existência da reprodução de relações de poder coloniais no campo da filantropia. E, ainda, afirmar que “desmerece quem já doa e tende a afastar quem pode vir a doar, colocando nas pessoas o rótulo de exploradoras, de aproveitadoras” é um reducionismo do problema, tirando toda a complexidade ao debate.
Infelizmente é isso que vem acontecendo no campo da filantropia nacional de forma geral: existe a tendência de evitar entrar de forma profunda em debates estratégicos, simplificando pensamentos. Ao mesmo tempo, as práticas de cooptação de atores estratégicos e apropriação de narrativas, sem sustentação material, dão lugar a reducionismos e a esvaziamentos de agendas, situação que ao mesmo tempo revela a existência de mais um conjunto de práticas coloniais no campo. Também a existência de iniciativas que atuam passando por cima, arrasando com tudo, instalando visões de mundo de cima para baixo, é certamente um outro exemplo de práticas coloniais na filantropia. E ainda temos que enfrentar grandes paradoxos conceituais como, por exemplo, quando a colaboração se instala apenas como um discurso ao melhor estilo commodity for export.
Desconhecer que existem práticas coloniais na sociedade e que isso reflete diretamente na filantropia brasileira é uma forma de dar as costas às minorias políticas, às relações de subalternação e opressão, à presença de diversos grupos que lutam por direitos e querem ter um espaço na filantropia brasileira, principalmente no acesso a recursos de forma flexível, alinhados com as suas agendas.
Afirmar que a filantropia brasileira está atravessada por visões e práticas coloniais incomoda, coloca o dedo na ferida, chacoalha e questiona a atuação de atores tradicionais que têm o poder do dinheiro e, portanto, também da tomada de decisão. Instalar essa discussão os obriga a sair da zona de conforto, do seu lugar de protagonistas. Abandonar os privilégios implica abrir mão do poder e do acesso exclusivo à riqueza e, certamente, esse é o grande desafio que temos como sociedade e não apenas no campo da filantropia.
Como argumentado no artigo da Allyne e Graciela, os dados do Censo GIFE de 2020 [3] indicam que existem traços marcantes de práticas coloniais na filantropia brasileira quando se doa de forma tímida para a sociedade civil e, com isso, não reconhece a importância e a potência desse setor nas lutas e nos processos de transformação social. Além disso, os dados mostram também que as minorias políticas não são a prioridade, uma vez que apenas 5% das organizações filantrópicas associadas ao GIFE financiam diretamente iniciativas voltadas à questão racial; 9% às mulheres; 3% às comunidades LGBTIQA+ e 4% a pessoas com deficiência. Pode ser que a edição 2022 mostre alguns avanços, mas acreditamos que ainda serão tímidos porque partimos da premissa que os processos de transformação levam tempo e grandes esforços, principalmente de diálogo e de saber lidar com a diferença.
Para nós, da Rede Comuá, o ponto de partida fundamental para avançar no caminho da decolonização da filantropia brasileira é promover um processo de reflexão profunda sobre as práticas históricas, instalando um movimento de desconstrução permanente e uma forma de atuação na realidade social, sem impor soluções rápidas de cima para baixo, mas, sim, fortalecendo vozes e reconhecendo o poder das comunidades de buscar formas próprias para enfrentar os problemas. O movimento #ShiftThePower ao qual aderimos tem de fato essa agenda [4].
A prática de doações baseadas em confiança vem se mostrando uma forma de trabalhar estrategicamente no sentido de reconhecer o poder das iniciativas territoriais e das minorias políticas que lutam pelo acesso e reconhecimento de direitos. Os fundos temáticos, comunitários e fundações comunitárias que integram a Rede Comuá – que atuam historicamente na área da filantropia local independente – vêm proporcionando doações cruciais a ONGs, organizações de base, movimentos sociais e defensores e defensoras do acesso a direitos no Brasil. Assim, os membros da Comuá buscam fazer um tipo diferente de filantropia baseada em práticas decoloniais [5].
A doação para comunidades de base mostra que o foco está em reconhecer os pontos fortes das organizações da sociedade civil, contribuindo assim para a promoção de transformações em vários níveis. Mais um argumento aqui que vai contra a tese do perigo de se falar em decolonização, já que a doação da filantropia independente é significativa no campo da justiça socioambiental, que deve ser entendida como uma estratégica para combater práticas coloniais e quebrar diversos status quo. De fato, a Rede Comuá e seus membros doaram diretamente, desde o momento da criação de cada um até a atualidade, um total de 670 milhões de reais para a sociedade civil brasileira.
O processo de decolonização procura desvincular-se das práticas extrativistas e exploradoras do passado. Isso implica uma transformação radical, fundamentada em novas alianças entre territórios e atores sociais, que não deixe espaço para a volta ao estado anterior de conformidade com o poder colonial dominante e simbólico. Uma filantropia verdadeiramente transformadora não pode dar as costas a esses problemas. De fato, esse é o ponto de partida para contar com um campo filantrópico consolidado, porque decolonizar implica reconhecer a diversidade, a multiplicidade de atores e práticas e, principalmente, a importância e a potência transformadora da sociedade civil.
Rede Comuá – filantropia que transforma.


 Se existisse uma máquina do tempo que trouxesse Getúlio Vargas e Luiz Carlos Prestes diretamente do ano de 1945, jogasse os dois, peladões, sem entender nada, como numa cena de filme distópico, no meio do Largo da Carioca, a primeira coisa que eles fariam seria olhar um para cara do outro e falar “eita porra”, depois iam para uma banca arrumar um jornal para cobrir suas “vergonhas”.
Se existisse uma máquina do tempo que trouxesse Getúlio Vargas e Luiz Carlos Prestes diretamente do ano de 1945, jogasse os dois, peladões, sem entender nada, como numa cena de filme distópico, no meio do Largo da Carioca, a primeira coisa que eles fariam seria olhar um para cara do outro e falar “eita porra”, depois iam para uma banca arrumar um jornal para cobrir suas “vergonhas”. Era uma vez, muito tempo atrás, uma pequena subsidiária de uma das maiores empresas do mundo. Em certo momento, seu presidente achou melhor fazer uma cisão com a holding. Segundo muitos economistas, foi quando os problemas de gestão se tornaram aparentes.
Era uma vez, muito tempo atrás, uma pequena subsidiária de uma das maiores empresas do mundo. Em certo momento, seu presidente achou melhor fazer uma cisão com a holding. Segundo muitos economistas, foi quando os problemas de gestão se tornaram aparentes.